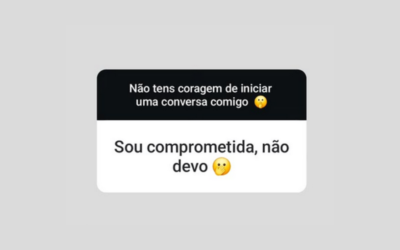Conto inspirado na Nota do Autor de “Casa da Barragem”
Não recebi um convite. Recebi uma provocação.
A mensagem chegou às 02h17 da manhã. “Estás pronto para escrever o que ainda escondes de ti?”
Não trazia nome, só uma localização partilhada e uma frase que me ficou colada à pele: “Esta casa não é para todos. Mas talvez seja para ti.”
Durante segundos não respondi. Depois, nem consegui dormir.
A localização levava-me para uma zona perto de uma barragem.
Perto de Viseu, mas longe de tudo o que é normal. Senti que aquilo não era apenas sobre sexo. Era sobre escrita.
Sobre verdade. Sobre arder em silêncio e depois escrever em voz alta.
Na manhã seguinte, meti o caderno na mochila, vesti uma camisa escura, respirei fundo e fui.
A estrada era estreita, ladeada de árvores altas e memórias ainda por vir. O GPS perdeu o sinal a meio. Segui o instinto. Quando cheguei à última curva, vi-a. A casa.
Isolada, com muros baixos em pedra e janelas grandes. Não havia música. Nem sinais de vida. Mas senti a presença.
O calor. A tensão no ar. A porta estava entreaberta, como se esperasse por mim. Entrei.
O primeiro cheiro que me invadiu não foi a madeira ou o incenso, mas o da pele humana misturada com cera derretida e couro.
À esquerda, uma sala com espelhos. Ao fundo, um espaldar. Sobre uma mesa, brinquedos alinhados com precisão: chicotes, plugs, dildos, vibradores, pinças, cordas. Nada parecia improvisado. Aquilo era um altar de prazer e entrega. Sentei-me. O silêncio da casa provocava mais que qualquer som.
Minutos depois, ela entrou.
Não sei o nome. Nunca perguntou o meu. Camisa branca solta, sem soutien, sem cuecas, pés descalços, cabelo preso de forma displicente.
A pele morena, marcada de leve por linhas que denunciam histórias anteriores. Parou à minha frente, sem sorrir, sem receio.
— “Chegaste.”
Assenti.
— “Vieste escrever ou ser escrito?”
Fiquei calado.
Ela aproximou-se, puxou-me pela camisa, levou-me até à parede onde havia um espelho. Mandou-me sentar.
— “Hoje, só tocas se mereceres.”
Depois, despiu-se. Deixou a camisa cair. Caminhou nua pelo espaço como quem já sabia o poder que tinha.
Pegou numa fita, amarrou-me os pulsos à cadeira. Sem agressividade. Sem cerimónia.
— “Hoje, dominas com palavras. Se não escreveres, não voltas.”
Sentou-se nas minhas coxas, abriu-se com os dedos. Tocava-se enquanto me olhava nos olhos.
— “Vês isto? Já estou molhada por tua causa. Mas não vou deixar que entres. Quero ver se tens outro tipo de força.”
Desceu da cadeira, ajoelhou-se, lambeu-me por cima das calças. Depois abriu o fecho e tirou-me o pau duro para fora.
Segurou com firmeza, mas sem pressa. Começou a masturbar-me devagar, com os olhos sempre nos meus.
— “Não podes te vir. Não ainda. Quero que fiques à beira. A arder.”
Mordeu-me a coxa. Lambeu-me a glande com a língua plana, mas depois parava.
Punha-se de pé, tocava-se de novo, e dizia:
— “Já estás a escrever aí dentro, não estás?”
Quando terminou, não me soltou. Deixou-me preso, com o sexo latejante e a cabeça a explodir.
Voltou com um caderno. Capa preta. Papel grosso.
— “Pensa no que vais escrever. Com as mãos atadas. Com a raiva de não me teres fodido.”
Deixou-me só. Imaginei tudo o que ia escrever. Sobre o cheiro dela. Sobre o modo como se sentava.
Sobre a humilhação deliciosa de não poder fazer nada. Sobre o desejo de a virar contra a parede e tomar o controlo.
Quando voltou, Desamarrou-me e pediu para eu escrever no caderno.
— “Estás a começar a merecer voltar. Mas ainda não quero ler o que vais escrever.”
Beijou-me na boca. Mordeu-me o lábio. E desapareceu por uma porta que não vi abrir.
Nas semanas seguintes voltei. Combinámos poucas palavras. Às vezes estava ela, outras vezes estavam mais pessoas.
Casais. Mulheres. Um homem mais velho cuja alcunha era “engenheiro”.
As regras eram sempre claras: consentimento. Comunicação. Discrição. E escrita.
Era um jogo. Um ritual. Uma terapia. Às vezes dominava. Noutras, era dominado.
Certa vez, uma mulher colocou-me um anel vibratório e sentou-se em cima de mim com uma mordaça na boca. Outra amarrou-me às escadas e usou-me como apoio para se masturbar. Houve um dia em que entrei e todos estavam nus à minha espera. Mandaram-me tirar a roupa, escrever uma cena e depois executar cada linha.
Comecei a escrever compulsivamente. De madrugada. No carro. Em cafés, mas nunca publiquei nada desde maio.
Aquilo era só meu. Não era conteúdo. Era confissão.
Em junho, parei. Duas semanas. Fui para Peniche. Levei os cadernos comigo. Ali, em frente ao mar, percebi: esta história precisava de sair do escuro.
Não para me exibir. Nem para alimentar fetiches, mas porque aquilo que vivi ali… não podia morrer comigo.
Durante as manhãs, caminhava junto ao mar. À tarde, escrevia. Reescrevia. Limpava as partes sujas da alma, mas deixava as da pele intactas.
Não queria suavizar. Queria ser fiel ao que senti.
Agora, o livro existe e estará disponível em breve, em formato digital. Cheio de nomes inventados para esconder o que é real. E cenas reais que nem a ficção teria coragem de inventar.
Não volto à casa há semanas, contudo sinto-a dentro de mim. No cheiro. Na memória. Na ponta dos dedos quando escrevo.
Escrevi este texto porque precisava de o escrever. Não para justificar nem para me redimir.
Mas porque… só se escreve o que arde. E aquela casa, aquelas noites, aquelas vozes presas entre dentes… ainda ardem.
E talvez, se me leres com atenção, arda em ti também.